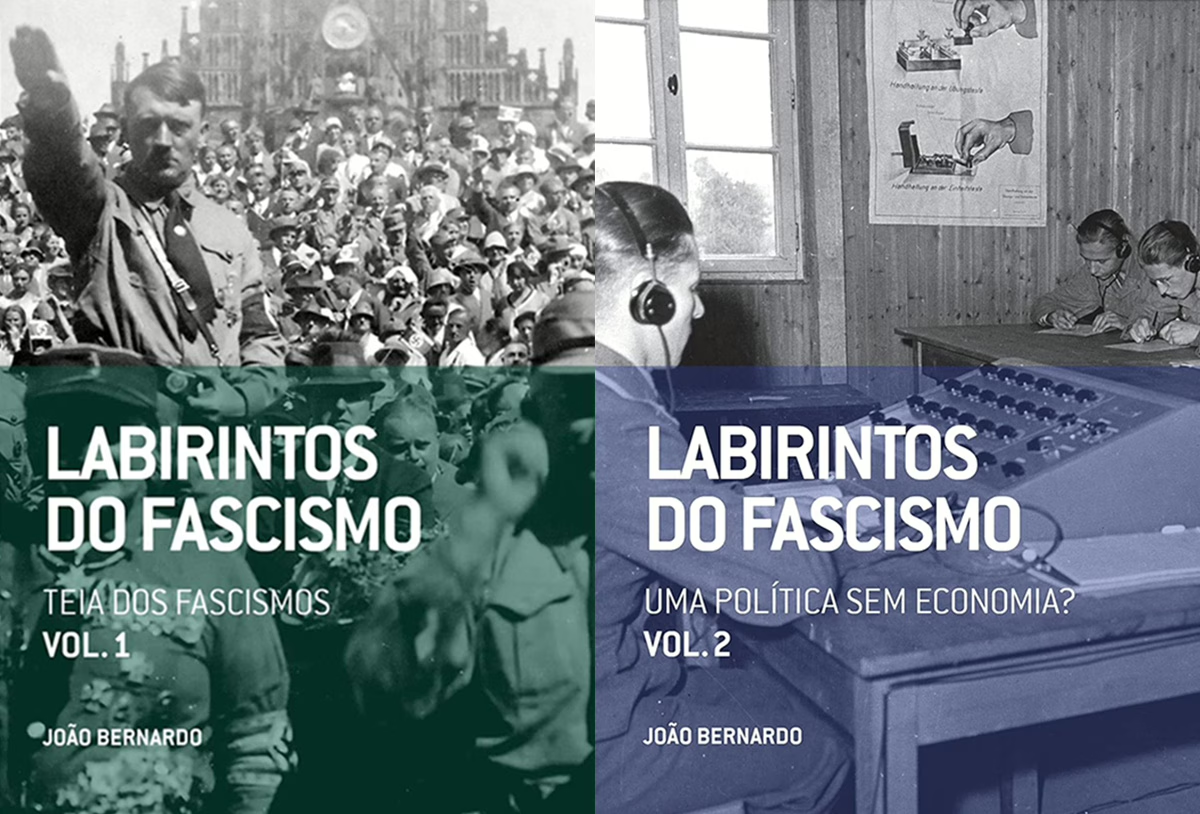Na última década, dada a ausência do proletariado com consciência de classe na cena política mundial, foi visível a ascensão ao poder de Estado de partidos de extrema-direita inspirados em ideais fascistas do séc. XX. Na Ucrânia, por exemplo, o neonazismo adquiriu um protagonismo político que poucos imaginariam passados mais de setenta anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Diante disso, a esquerda do capital costuma se apresentar como alternativa se propondo a fortalecer as instituições democráticas do capital. No entanto, para não cairmos nessas armadilhas é preciso conhecer a fundo as origens históricas do fascismo e como esse fenômeno político ecoa ainda hoje na luta de classes.
Tal tarefa foi realizada em obra magistral do autor João Bernardo intitulada “Labirintos do Fascismo: na encruzilhada da ordem e da revolta” (Edições Afrontamento) da qual apresentamos aqui algumas das principais ideias das partes 1 e 2 para dar uma noção da profundidade e importância desse trabalho a todos aqueles comprometidos com a emancipação do proletariado. Nesse livro o autor português disserta sobre uma compreensão do fascismo difícil de encontrar no campo da esquerda comunista e que nunca será encontrada entre a esquerda do capital. Ao situar a base de classe do fascismo, afasta-se do lugar comum que explica o fascismo como algo extemporâneo ao capitalismo atual e, mais que isso, como se não pertencesse a ele. Demonstra por que o fascismo tem tanto em comum com a socialdemocracia. Essencial, portanto, ao entendimento da conjuntura atual.
Ao apresentar o modo como o fascismo se aproveita da desorganização do movimento operário, na primeira parte o autor inicia com a abordagem da sua base material e finaliza com os ensinamentos que a auto-crítica pode trazer ao movimento operário: “O fascismo mobilizou os trabalhadores para efectuar uma revolução capitalista contra a burguesia ou, talvez mais exactamente, apesar da burguesia.” O proletariado faz isso ao assumir uma realidade sociológica para si. É a conversão da classe em massas. O fascismo só alcança sua hegemonia depois de ter desaparecido do horizonte a alternativa social incorporada pelas manifestações de luta coletivas e ativas. Ele apresenta o fascismo, enfim, como produto de uma revolução interna ao Estado, uma revolução dentro da ordem. E esse processo de burocratização parte da base do movimento, mais precisamente quando as formas coletivas de luta que colocam em causa as relações sociais de produção são substituídas pela passividade representativa e pela defesa das instituições do Estado.
Ele segue caracterizando o fascismo pela apologia da instituição do chefe, que tem a capacidade de mudar de orientação e de opiniões quando bem entender. Cada fascismo tem as suas características particulares, mas o que lhes é comum são quatro instituições: 1) exército; 2) igrejas; 3) partido e milícias; 4) milícias e sindicatos. É resultado de um cruzamento dinâmico entre socialismo, liberalismo e pensamento conservador. As diferentes variantes do fascismo são exemplificadas pelo autor: o caso italiano, português, o alemão, o espanhol, o belga, o romeno, o austríaco, o japonês, o francês e o argentino. Em cada um desses diferentes países o fascismo encontrou uma base social particular, que demonstrou a sua capacidade de atravessar todas as camadas sociais.
O Reino Unido é usado como exemplo para apresentar as condições para o triunfo do fascismo. Apesar de neste país o fascismo ter sido condenado à nulidade, as causas dessa nulidade demonstram por que o fascismo teve sucesso em outros: lá as classes dominantes conseguiram conciliar os conflitos sociais.
“O nacionalismo unifica os diferentes estratos sociais e as classes sociais antagónicas que se encontram dentro de dadas fronteiras, ou numa dada região e sonhando com fronteiras próprias. Deste modo cada nacionalismo faz pairar uma ameaça sobre outros povos, estimulando-os a apresentarem-se também como nacionalistas.” — João Bernardo
A crítica ao capitalismo é necessária para reconhecer a repressão que existe em qualquer regime democrático. João Bernardo lembra que a mesma lei promulgada contra a extrema-direita e fascistas para proteger as instituições da República de Weimar passou a ser aplicada aos comunistas, justamente quando o partido nacional-socialista crescia. Da mesma forma, retrata o apoio de presidentes estadunidenses, da época, a Mussolini, assim como o apoio da URSS, com fornecimento de petróleo à Itália durante a invasão da Etiópia.
Outra ideologia criada pelos regimes democráticos, para distanciá-los do fascismo, foi a distinção entre totalitarismo e autoritarismo. Em suma, os regimes autoritários seriam inconvenientes, embora legítimos, para respeitar os valores da ordem e o respeito pela hierarquia inerentes ao liberalismo. Os totalitarismos englobariam uma categoria que inclui o fascismo e o capitalismo de Estado soviético: o fascismo fica reduzido às experiências italiana e alemã; o conceito de totalitarismo pressupõe que o Estado detém o monopólio da iniciativa política, com uma população passiva. Por fim, essa ideologia insere o totalitarismo no capítulo das anomalias da história.
O autor explica que é impossível compreender o fascismo sem atribuir uma importância primordial à mobilização popular que ele gerou, a qual transportou para o meio operário os temas nacionalistas das esferas conservadoras e conferiu à direita um dinamismo político que até então fora a principal característica da base trabalhadora animada pela esquerda. O racismo seria a transposição do nacionalismo para o campo biológico. Conclui-se dessa forma a primeira parte: “Não é possível fazer crítica ao fascismo se não o reconhecermos como um nacionalismo de base proletária. Nem é possível estudar criticamente o fascismo hitleriano se não o abordarmos desde início como o mais consequente dos racismos.”
Na segunda parte do livro o autor explica como a filiação do fascismo ao liberalismo ocorreu no próprio pensador que criou o liberalismo: Rousseau. Mussolini e Robespierre tinham muito em comum. “A relação entre a teoria das elites de Mosca e a de Pareto pode servir de modelo à relação entre liberalismo e fascismo. O liberalismo corresponde à absorção gradual e permanente das novas elites através do estímulo à mobilidade social, enquanto os movimentos fascistas pretendiam provocar uma substituição violenta, e executada de uma única vez, da elite antiga por uma nova elite que se teria formado no exterior do sistema político precedente.” Apesar das democracias defenderem um sistema de pluralidade de elites, como oposição aos regimes totalitários, na prática grande parte das divisões no interior das democracias são artificiais. Já o sistema corporativo promovido pelo fascismo, foi o reconhecimento da existência de uma pluralidade de elites e uma tentativa de harmonização entre elas. O que há em comum entre as duas é considerar na oposição entre elite e massas a característica estruturante da organização política. Execrar a burguesia e defender o capitalismo, odiar as classes dominantes e respeitar as instituições, cobrir generais de sarcasmos e promover a disciplina militar, é uma dualidade que marca os limites da crítica do fascismo e norteia a sua demagogia.
A supremacia dos gestores e da economia organizada confunde-se com a supremacia do fascismo e do sistema corporativo. No fascismo a hegemonia é dos gestores. A burguesia foi salva pelos gestores no plano econômico, porque só eles conseguiram proceder à necessária reorganização do capitalismo. Nas democracias, essa convergência entre burguesia e gestores resultou no New Deal e no keynesianismo, onde as instituições burguesas eram mantidas e remodeladas pelos gestores; e o proletariado era impedido de participar das decisões políticas e econômicas. Na experiência soviética o processo foi inverso, com a convergência entre gestores e proletariado: enquanto o proletariado procurava os gestores para transformar as relações sociais de produção, os gestores buscavam o apoio do proletariado para remodelar as relações jurídicas de propriedade. Os gestores desenvolveram formas de apropriação adequadas ao caráter coletivo da sua classe e retiraram da burguesia a exclusividade do controle do capital.
Os gestores conseguiram salvar o capitalismo ao disciplinar o proletariado de forma eficaz ao mesmo tempo que promoviam a sua própria ascensão. Isso ocorreu com maestria no comando de Mussolini, de Hitler, da Falange Espanhola, de Salazar e dos gestores franceses. Portanto, nem de Estado e nem liberal: o fascismo foi um capitalismo de gestores.
“A fragmentação da Jugoslávia constitui um exemplo clássico de um nacionalismo operando de cima para baixo. Fomentou-se o nacionalismo numa região onde, ao longo da história, a paz prevalecera sobre a guerra e onde um quarto da população havia procedido a casamentos mistos. Os responsáveis por esta actuação apoiaram a violência étnica, quando não a provocaram, com o intuito de gerar ódios que podiam então ser amplificados pela imprensa, abrindo o caminho para novas violências” — Warren Zimmermann
Recusando-se a estatizar a economia, o fascismo estatizou os conflitos sociais e residiu aí o seu socialismo tão peculiar.
Outra ideologia muito propagada pelo fascismo foi a crítica ao capitalismo especulativo como causa dos problemas desse sistema, junto à exaltação do capital produtivo e dos trabalhadores anti-marxistas. O pulo seguinte foi abandonar a teoria econômica em favor da teoria racial: como a nação era entendida por Hitler não no sentido geográfico, mas étnico, o que de início era uma questão econômica, o ataque ao capital estrangeiro, converteu-se num problema racial. O problema era o judeu, considerado agente do capital internacional, denunciado como antinação e como capital não-alemão.
Esses delírios raciais revelam nada mais que a hegemonia da instância ideológica no nacional-socialismo. Essa situação indica o surgimento de um metacapitalismo e, dessa forma, existiriam dois novos modos de produção em germe na sociedade atual: um pressuposto nas relações de solidariedade e igualdade que os trabalhadores estabelecem entre si quando lutam coletivamente contra o capital e, um outro, que surge quando a contestação, em vez de pôr em causa as hierarquias sociais, se processa dentro do quadro da ordem, reforçando-a mediante a renovação das elites ou, mais grave ainda, através da formação de elites novas. A segunda parte do livro encerra com a abordagem do metacapitalismo decorrente das novas formas de exploração do fascismo e do escravismo de Estado soviético, com a seguinte reflexão sobre o grande paradoxo daquela época: os acólitos do Terceiro Reich “(…) Destruíram no Leste da Europa as formas de funcionamento do capital e instauraram um novo regime económico e social, que aparentemente foi um novo modo de produção. E apesar de o terem feito no quadro de uma política exclusivamente rácica, esse regime assemelhou-se, em alguns dos seus traços decisivos, àquele que a União Soviética implantara através de uma política estritamente de classe”.
Em uma futura edição daremos continuidade à presente resenha, analisando as demais partes da obra, certos de que essa temática permanecerá atual por muito tempo.♟